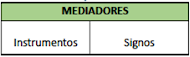Introdução
A compreensão da função social da leitura e da escrita requer, primeiro, o entendimento dos conceitos de leitura, de escrita e de bens culturais. A partir da conceituação do objeto de estudo, damos os primeiros passos para compreender suas funções em uma sociedade. Nesse sentido, devemos buscar respostas para questões, como: O que é ler? O que é escrever? Haverá um conceito universal para essas atividades humanas? O que constitui um bem cultural? Quais tipos de bens culturais existem?
E de modo mais amplo, buscarmos respostas para: Qual a função social da leitura e da escrita, como bens culturais da humanidade?
Entendemos que a leitura de um material escrito é a capacidade de compreender as informações e os conhecimentos nele presentes, reconhecendo o tipo e a função social do texto, independentemente do suporte, seja um meio físico ou virtual, no qual se materializa. A leitura não é simplesmente a tradução das letras em sons, mas, essencialmente, a apreensão do significado e do sentido de um texto. Segundo Soares (2012), a capacidade leitora permite ao sujeito, não apenas decifrar sinais, mas mobilizar conhecimentos coerentes ao texto e à vida.
Kramer (2000) amplia a compreensão da leitura ao considerá-la uma experiência na qual o leitor carrega consigo aquilo que foi vivido no momento da leitura para outro tempo e espaço, possibilitando pensar criticamente a realidade em seu contexto histórico e nela atuar e transformar (-se). A leitura como experiência é uma leitura compartilhada com o autor e com as demais pessoas com que nos relacionamos, ela possibilita a reflexão e o sentir sobre múltiplos aspectos da vida. São experiências nas quais "fala-se de livros e de histórias, contos, poemas ou personagens, compartilhando sentimentos e reflexões, plantando no ouvinte a coisa narrada, criando um solo comum de interlocutores, uma comunidade, uma coletividade” (KRAMER, 2000, p.21), tal como fazemos quando vivemos uma viagem, uma aventura. “O que faz da leitura uma experiência é entrar nessa corrente onde a leitura é partilhada e onde, tanto quem lê, quanto quem propiciou a leitura ao escrever, aprendem, crescem, são desafiados” (KRAMER, 2000, p.21).
A escrita, para Kleiman (1995), é um sistema simbólico e uma tecnologia usada em contextos específicos, para atingir objetivos específicos. Nessa definição, a autora explicita a existência de um sistema e uma técnica normatizadores do processo de escrita e, também, evidencia a existência de diferentes textos praticados em situações e funções diversas de grande importância nas relações sociais. De forma complementar, Goulart (2006) explica a escrita como prática social, como um saber, e que o acesso a essa prática permite o acesso ao mundo da escrita e dos conhecimentos.
A escrita como experiência assume uma forma de narrativa elaborada coletivamente, que faz ou refaz processos de escrita, de vida, de relações, com suas incoerências e contradições. “O que faz de uma escrita uma experiência é o fato de que tanto quem escreve quanto quem lê se enraízam numa corrente, constituindo-se com ela, aprendendo com o ato mesmo de escrever ou com a escrita do outro, formando-se”. Leitura e escrita são experiências humanas, porque são próprias do homem, que o instrumentalizam com novos conhecimentos, pensamentos, sentimentos e ações conscientes (KRAMER, 2000, p.22).
O domínio do sistema de escrita, declara Goulart (2020, s/p), leva as crianças “[...] a novas formas de dizer e conhecer o mundo, novas formas de neste mundo se reconhecerem e existirem”. Mais ainda, a escrita prenuncia o desenvolvimento cultural do sujeito (VYGOTSKY, 2007). Leitura e escrita são bens culturais pilares da transformação da condição nos aspectos cultural, linguístico, psíquico, social e político de um sujeito e/ou de toda uma sociedade.
Bens Culturais da Humanidade
Ao longo da história da humanidade, o homem produziu bens materiais e culturais que foram transmitidos às novas gerações, que por sua vez reelaboraram, aperfeiçoaram e revolucionaram esses bens.
Os bens materiais referem-se aos instrumentos físicos criados a fim de auxiliar o homem em sua relação com a natureza e com a sociedade: instrumentos agrícolas que multiplicam a produção em um menor tempo; exames médicos e instrumentos cirúrgicos que identificam e auxiliam no tratamento; meios de transporte e de comunicação que aproximam pessoas e possibilitam negociações, entre muitos outros instrumentos utilizados nos mais variados contextos.
Os bens culturais referem-se aos signos, que são os conhecimentos e suas formas de representações, como: o idioma, a história, as artes, a escrita, os registros numéricos, algébricos e cartográficos, fórmulas, desenhos, gráficos, tabelas, entre outros, que instrumentalizam o homem cognitivamente para compreender e agir conscientemente na realidade.
Os instrumentos e os signos são mediadores entre o homem e o mundo objetivo, que possibilitam que ele intervenha na realidade de forma intencional.
Instrumentos e signos possuem propriedades semelhantes, mas não idênticas. Ambos, segundo Vigotski (2007), são meios (mediadores) que orientam o comportamento humano em suas atividades objetais e mentais. Os instrumentos auxiliam e orientam as ações do homem no campo físico, ou seja, externamente, alterando o mundo objetal. Enquanto os signos são mediadores no campo psicológico ou interno, que alteram os processos cognitivos e afetivos do homem.

A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente (VIGOTSKI, 2007, p.55, grifos do autor).
Caro aluno, o infográfico que segue representa um esquema das relações entre sujeitos e atividades materiais e intelectuais no mundo objetal, mediadas pelos instrumentos e signos, com os respectivos resultados das transformações externas e internas, em um movimento contínuo e interconexo entre instrumentos e signos.


Apropriam-se de:
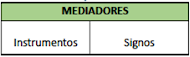

Orientam as:


Resultam em


Relações interconexas:

Essas relações estão presentes em todas as atividades humanas. Podemos exemplificar com as seguintes situações:
Situação 1: Ao construir um edifício sobre um terreno, o homem faz fundações, estrutura e paredes, cobertura, instalações, acabamentos e pintura, transformando a natureza, que é um objeto externo.
Situação 2: Ao ler, escrever, calcular e se apropriar de conhecimentos, por exemplo, o homem não altera um objeto externo, mas promove alterações internas, mentais e emocionais em si mesmo.
Na atividade de trabalho, desde a coleta de alimentos e da caça primitiva até as formas atuais de trabalho com alto suporte tecnológico, o homem necessitou estabelecer relações com seus parceiros – da tribo ou da instituição de trabalho – para comunicar seus pensamentos, para planejar as ações coletivas de trabalho, para refletir sobre os resultados e reencaminhar as novas ações, quando preciso. Essas relações entre os homens e entre eles e o mundo objetal exigiu aprimoramento das formas de comunicação e de registro, a fim de produzir memórias, de agilizar ações, de ampliar os resultados quantitativa e qualitativamente.
Trabalho, linguagem oral e linguagem escrita são atividades humanas que caminharam e evoluíram, interconectadamente, e resultaram em produções de bens materiais e bens culturais. Esses últimos, por sua vez, se apresentam em forma de bens culturais materiais e imateriais. Como exemplo de bens culturais materiais, podemos citar: obras de arte, monumentos, espaços e objetos arqueológicos, casarões históricos, entre outros – que trazem consigo a cultura imaterial. Quanto aos bens culturais imateriais, destacamos alguns exemplos: linguagem oral e escrita, músicas, conhecimentos das várias áreas, teorias científicas, comportamentos culturais presentes nas danças, nos ritos e nas tradições de um povo.
No que concerne a interconexão entre as atividades humanas, Kopnin (1978, p.128) traz à memória a seguinte afirmativa de Marx e Engels:

A produção de ideias, conceitos e consciência está originalmente entrelaçada, em termos imediatos, na atividade material e na comunicação material entre os homens, na linguagem da vida real. A formação de conceitos, o pensamento, a comunicação intelectual entre os homens são, aqui, mais um produto imediato da relação material entre os homens.
Sendo assim, a atividade material do homem entrelaça-se com sua atividade intelectual, o que promove uma influência de mão dupla. Tais influências são geradoras de desenvolvimento em ambas as atividades, dado o movimento dessa relação baseado em todo conhecimento anteriormente produzido e materializado, ou seja, em todos os bens materiais e culturais já produzidos. Esse entendimento rompe com as dicotomias: produção e produto material/imaterial; desenvolvimento corpo/mente, pois esses pares evoluem e se transformam mutuamente.

Para melhor explicar a relação entre a criação de instrumentos físicos e a produção de signos, tomemos como exemplo a criação de um instrumento que teve grande impacto na produção de conhecimento – o microscópio. A necessidade de intervir em fenômenos desencadeados por um "pequeno mundo" que escapava da ação humana há muito mobiliza a humanidade. A produção de lentes que ampliam a visão humana representava já um alto nível de conhecimento dos efeitos físicos e das propriedades dos materiais. Mediante o uso desse instrumento, um outro universo, inatingível a olho nu, tornou-se acessível ao homem que, aos poucos, foi dando significado ao que via e ao que experimentava. Novas unidades de medida foram sistematizadas para representar novas grandezas físicas, exigindo uma notação científica diferenciada; objetos antes desconhecidos foram denominados em sua aparência, função e relações. Desse modo, conhecimentos são produzidos e "codificados" em palavras, fórmulas, equações, dentre outras formas de registro (SFORNI, 2008, p.4).
REFLITA
Como vimos, a humanidade, no decorrer de sua história, produziu e desenvolveu inúmeros bens culturais. Abaixo, citamos apenas alguns para você tomar como base de análise:
- Registros de contabilidade comercial, de pensamentos filosóficos, de descobertas;
- Arte visual e arquitetônica, música, cantigas, dança, poesia, teatro, folclore;
- Festas, saraus, bailes, procissões, cultos;
- Comunicação por meio de carta, jornal, panfleto, telefone.
Analise-os e pense: qual bem cultural imaterial está presente na maioria destas e de outras atividades humanas?
Grande parte das atividades humanas é mediada pela linguagem. Foi a linguagem que permitiu ao homem alcançar uma forma de organização social cujo alcance e complexidade são diferentes da de outros animais. Enquanto o comportamento dos animais é principalmente instintivo e transmitido geneticamente, o do homem é aprendido e transmitido verbalmente por meio da herança cultural. Cotidianamente, as pessoas agem dentro de um mundo mediado textualmente: repleto de imagens, códigos, palavras, textos técnicos, acadêmicos e literários, que precisam ser interpretados e/ou produzidos. Portanto, o domínio da leitura e da escrita, em um mundo grafocêntrico, é um importante bem cultural para o homem, na atualidade.
É recorrente a linguagem ser considerada apenas um instrumento de comunicação. No entanto, a linguagem também tem um papel central na aprendizagem e na produção de novos conhecimentos. E, ainda, permite representar e transmitir o conhecimento às novas gerações, ao longo do tempo. A linguagem, além de ser um meio de representar o conhecimento, é frequentemente o próprio espaço onde o conhecimento é produzido. Por exemplo, não há conhecimento histórico fora dos textos de historiadores, mesmo que sejam construídos a partir de dados e evidências de todos os tipos, comentados e analisados. A linguagem, neste caso, é usada para fins heurísticos (processos de descoberta e aprendizagem).
comunicação entre as pessoas (oral e gráfica);
representação do conhecimento, usando formas diversas, desde o desenho a uma fórmula matemática;
mediação entre as pessoas e o mundo, permitindo conhecê-lo e controlá-lo.
interação transformadora entre pessoas, permitindo trocas (discussão, debate, disputas) entre os produtores de conhecimento e entre os produtores e os usuários de conhecimento, o que pode levar a avanços culturais;
produção, criação e registro de conhecimento por escrito, sendo os dois lados de um mesmo processo.
Essa diversidade de relações entre linguagem e conhecimento mostra que a linguagem é absolutamente essencial à aprendizagem e à produção do conhecimento. Por conseguinte, em ambiente escolar é imprescindível levar em consideração essa variedade de funções que a linguagem pode desempenhar no ensino e na aprendizagem das disciplinas escolares.
A proficiência na leitura e na escrita em diversos domínios do conhecimento são necessárias para o sucesso acadêmico na escola e para a inclusão social. Essa proficiência implica a capacidade de trocar códigos e de optar por um registro (tipo e gênero textual) que seja apropriado para um propósito comunicativo específico. Essa proficiência, também, é importante para a educação e o treinamento contínuos quanto ao exercício dos direitos civis básicos e ao aproveitamento dos meios de comunicação públicos. Por essas razões, a função social da escola é equipar os estudantes de qualquer idade com conhecimentos, para participar ativamente nas sociedades de conhecimento democráticas modernas.
Apropriação de Bens Culturais, na Escola
A edição 2018 do maior estudo sobre educação do mundo, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) realizado a cada três anos com estudantes de 15 anos, apontou que o Brasil tem baixa proficiência em leitura, matemática e ciências, se comparado com outros 78 países que participaram da avaliação.
Figura 3: Valores saudáveis.
https://br.123rf.com/profile_photosvit
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Os índices estão estagnados desde 2009. Essa edição revela uma porcentagem alta de estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, que não possuem o nível básico de proficiência nas três áreas avaliadas:
- 50% dos estudantes brasileiros não possuem nível básico em leitura.
- 68,1% dos estudantes brasileiros não possuem nível básico de matemática.
- 55% dos estudantes brasileiros não possuem nível básico em ciências.
Esse quadro educacional brasileiro advém de fatores sociais, políticos, econômicos e culturais, porém, mesmo diante desse complexo problema, a sociedade e a escola têm de despender esforços em ações de ensino dos bens culturais clássicos, científicos, essenciais em cada área de conhecimento, a fim de desenvolver as máximas possibilidades cognitivo-afetivas do estudante.
Com base em pesquisas, Vygotski (1995) verifica a relevância da apropriação dos bens culturais no desenvolvimento psíquico da criança, ou seja, no desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da percepção, da atenção, da memória, das emoções. Segundo o autor, a cultura é fonte primária do progresso cognitivo-afetivo do sujeito, em vista disso, cumpre a função social de promoção do desenvolvimento.
Precisamos nos atentar ao papel social da escola, pois há uma ideia comum e equivocada de esperar que os jovens venham para a escola com adequada proficiência na língua materna adquirida em casa, precisando apenas de retoques finais. Tal ideia é característica de um sistema educacional seletivo, no qual se acredita que o contexto social e o domínio linguístico dos estudantes são mais ou menos homogêneos. Em vista disso, toda instituição de ensino tem que se concentrar no ensino da linguagem verbal de forma sistematizada, baseada na leitura e na escrita em diversas áreas de conhecimento.
A sistematização do ensino da leitura e da escrita deve iniciar desde a educação infantil, logicamente, adequada às idades das crianças dessa faixa etária. Esse direito da criança e dever do estado está expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013):

[...] dentre os bens culturais que crianças têm o direito a ter acesso está a linguagem verbal, que inclui a linguagem oral e a escrita, instrumentos básicos de expressão de ideias, sentimentos e imaginação. A aquisição da linguagem oral depende das possibilidades das crianças observarem e participarem cotidianamente de situações comunicativas diversas onde podem comunicar-se, conversar, ouvir histórias, narrar, contar um fato, brincar com palavras, refletir e expressar seus próprios pontos de vista, diferenciar conceitos, ver interconexões e descobrir novos caminhos de entender o mundo. É um processo que precisa ser planejado e continuamente trabalhado (BRASIL, 2013, p.94).
A leitura e a escrita, como bens culturais aprendidos em ambiente escolar, resultam de um processo intencional de ensino e de aprendizagem, iniciado na educação infantil e continuando em toda a escolaridade. Daí a relevância da escola estruturar-se para ensinar esses conhecimentos aos estudantes que a frequentam e, de posse desses bens culturais, compreendam os fatos e fenômenos naturais e sociais.
Enfim, ao reconhecermos a função social dos bens culturais como promotora de aprendizagem e de desenvolvimento, passamos a valorizá-la. Somente quando há o entendimento de que a cultura transforma o homem e a sociedade, a mesma assume uma posição social mais elevada. Reconhecer e entender a cultura, desperta nosso olhar para ela, então, a valorizamos, a mantemos mais presente e a projetamos para outros espaços e tempos.
Ante à significativa função social, trazemos algumas informações acerca dos bens culturais imateriais brasileiros.
Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro
O Brasil possui uma rica diversidade de bens culturais imateriais resultantes, entre outros fatores, da extensão do país, dos povos de origem local, da imigração de povos dos mais variados pontos do mundo e da miscigenação entre esses povos. Bens que constituíram e constituem a nossa cultural, produto das relações sociais, com forte capacidade de promoção de aprendizagem e de desenvolvimento.
Em função dessa diversidade qualitativa e quantitativa da cultura brasileira e da falta de condições econômicas que limitam o acesso a ela, somente parte desses bens culturais são conhecidos por nós. E, ao longo do tempo, verifica-se a produção de novas culturas, mas, também, a descaracterização e a extinção de bens culturais de valor histórico.
Para que não suceda o desmantelamento desses bens, os órgãos públicos têm o poder e o dever de determinar o tombamento de bens culturais materiais e imateriais como patrimônio cultural. A página oficial da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura anuncia o significado tombamento de patrimônio cultural, como

[..] um ato administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados¹.
De forma legal e oficial, temos o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial considerados patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI). Esse programa viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do Patrimônio Cultural Brasileiro. É um programa de apoio e fomento que estabelece parcerias com instituições dos governos federal, estaduais e municipais, universidades, organizações não governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa (BRASIL, 2000).
O PNPI tem como objetivos:
- Elaborar indicadores para acompanhamento e avaliação de ações de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.
- Captar recursos e promover a formação de uma rede de parceiros para preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o Patrimônio Cultural Brasileiro.
- Incentivar e apoiar as iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade (BRASIL, 2000).
As linhas de ações do programa convertem-se em:
- financiamento, apoio e estímulo de projetos de pesquisa, documentação e informação;
- pesquisas, levantamentos, mapeamentos e inventários;
- instrução de processos de registro;
- sistematização de informações, constituição e implantação de bancos de dados;
- apoio à produção e conservação de acervos documentais e etnográficos, considerados fontes fundamentais de informação sobre o patrimônio cultural imaterial (BRASIL, 2000).
Das ações do PNPI resultam a identificação, avaliação e determinação do que será inventariado ou não. Os inventários são instrumentos de preservação de manifestações culturais e bens de interesse de natureza imaterial e material. Seu objetivo é compor um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial (BRASIL, 2000).
Os inventários dos bens culturais imateriais são de responsabilidade do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) que atua sobre demarcações territoriais, como uma vila, um bairro, uma zona ou mancha urbana, uma região geográfica culturalmente diferenciada ou a um conjunto de segmentos territoriais. Atua, igualmente, no conhecimento e reconhecimento de um tema ou uma referência cultural específica – como uma festa, um lugar ou um conjunto de saberes (BRASIL, 2000).
O Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC - atua, portanto, como instrumento de produção de conhecimento e documentação utilizados pelo Iphan para a identificação de bens culturais de natureza imaterial. Por meio do INRC:

[...] são identificadas as referências culturais, ou seja, aquelas práticas e bens culturais considerados os mais importantes para uma comunidade porque articulam sentidos de pertencimento e de identificação, dizem respeito à memória e à identidade das pessoas que neles se reconhecem. As referências culturais são identificadas em cinco categorias: Celebrações, Ofícios e Modos de Fazer, Lugares, Edificações e Formas de Expressão (BRASIL, 2000, s/p).
No intuito de conhecermos os tipos de bens culturais imateriais inventariados pelo INRC, apresentamos alguns exemplos.
No Paraná, identificamos registros de dois bens culturais imateriais e seus respectivos objetivos:
- No município de Paranaguá, temos as referências culturais do Centro Histórico, com especial ênfase para as festividades religiosas tradicionais, como a Festa de Nossa Senhora do Rocio. O INRC teve como objetivo identificar as referências culturais do município, com base em um recorte territorial que abrange diferentes universos socioculturais existentes.
- No município de Lapa, os bens culturais identificados e registrados foram nomeados, como: O tropeiro; Terminologias Tropeiras; Festa do Tropeiro; Comidas e Bebidas Tropeiras; Roda de Chimarrão; Ferreiro; Soleiro. Entre 2004 e 2007, o INRC teve como objetivo mapear as referências culturais dos moradores da cidade, com seu centro histórico, do período colonial, tombado pelo Iphan. Objetivou valorizar a produção cultural das diferentes camadas populares e grupos étnicos por meio do reconhecimento de suas celebrações, dos seus conhecimentos tradicionais ou das suas formas de expressão (BRASIL, 2000).
O estado do Pará tem registro concluído de dez bens culturais, dentre eles, destacamos dois:
- O Círio de Nazaré que ocorre na área continental da cidade de Belém, incluindo o município de Ananindeua, destino de uma das procissões que precedem a procissão principal, vindo de Belém. Em 2004, após a solicitação do pedido e a instrução do processo, a celebração foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil.
- O Carimbó dá-se na Mesorregião Metropolitana de Belém. Inventariaram os municípios de Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Bujarú, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá e Inhangapi. Os sujeitos dessa coletividade relatam que o Carimbó é uma invenção dos negros escravos que habitavam esta parte da Amazônia, no século XVII.
Os demais estados brasileiros, também, possuem bens culturais inventariados pelos órgãos competentes. As informações sobre eles podem ser acessadas no site oficial do Inventário Nacional de Referências Culturais².
Além do Decreto nº 3.551/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, há o Decreto nº 7.387, de 9 de Dezembro de 2010, que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, promotor da formação de uma política específica para salvaguardar a diversidade linguística brasileira (BRASIL, 2000).
O Inventário Nacional da Diversidade Linguística – INDL

[...] é uma política voltada para o reconhecimento da diversidade linguística como patrimônio cultural, por meio da identificação, documentação e ações de apoio e fomento. Por ser um instrumento com a dupla finalidade de pesquisar as línguas e reconhecê-las como patrimônio cultural, o INDL visa ao mapeamento, a caracterização e o diagnóstico das diferentes situações relacionadas à pluralidade linguística brasileira. Ou seja, para que uma língua seja incluída no Inventário, é necessário, antes de tudo, produzir conhecimento sobre ela, documentar seus usos e realizar um diagnóstico sobre as suas condições de vitalidade. A produção de conhecimento sobre as línguas, incluindo a documentação audiovisual e os diagnósticos sobre vitalidade linguística, é elemento estruturante dessa política, pois parte considerável das línguas existentes ainda é pouco conhecida (BRASIL, 2000, s/p).
Essa política possibilita a expansão do mapa da diversidade linguística brasileira, a mobilização das comunidades para dialogar sobre suas línguas maternas, colocando-os como gestores do seu próprio patrimônio cultural. Entre as ações de valorização previstas, encontra-se o reconhecimento das línguas como referencial de identidade, com emissão de título de Referência Cultural Brasileira, pelo INDL.
No Brasil, há mais de 250 línguas entre indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variações. Por ser um patrimônio cultural pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, tem-se uma visão de um país monolíngue. Perspectiva, essa, que distancia a sociedade brasileira do (re)conhecimento da realidade linguística de sua nação, de um bem cultural relativo à linguagem.
O Iphan e o Ministérios da Cultura – MinC – reconheceram sete línguas como Referência Cultural Brasileira, das quais seis são indígenas: Asurini, Guarani M’bya, Nahukuá, Matipu, Kuikuro e Kalapalo.
O Talian é uma língua reconhecida, resultante do contato de distintas línguas originárias da região de Vêneto, na Itália, de onde vieram muitos imigrantes, em meados do século XIX. É falada, principalmente, no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo (BRASIL, 2000).
Enfim, a discussão sobre os bens culturais imateriais insere-se no contexto de uma reflexão mais ampla sobre cultura geral e conhecimento escolar, pois o homem se humaniza por meio da apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade, ao longo de sua história. Essa apropriação pode ocorrer em contato direto com a cultura, nas relações cotidianas, ou de forma mediada e intencional, em ambiente escolar. Esse pressuposto é reiterado por Sforni (2015) no excerto que segue:

Parte dessa apropriação (dos bens culturais) é direta: ocorre por meio da participação dos sujeitos na cultura. Outra, porém, não pode ser captada diretamente pelos sujeitos em sua interação com o mundo; trata-se do conhecimento teórico. Propiciar o acesso a esse bem cultural específico, que não está garantido aos sujeitos por outras práticas culturais, que não se adquire por meio da vivência e da empiria, é o papel que cabe às instituições de ensino. É por essa especificidade da instituição escolar que se valorizam os conhecimentos sistematizados pelas diferentes ciências - os conhecimentos teóricos - como conteúdos centrais da atividade pedagógica (SFORNI, 2015, p.376, grifo da autora).
O ensino dos bens culturais, na escola, implica uma criteriosa seleção e uma organização adequada das ações de estudos desses bens, com a finalidade de que sua apropriação, pelo estudante, promova seu desenvolvimento cognitivo-afetivo e favoreça relações conscientes com o mundo objetivo. Assim, leitura e escrita constituem-se como bens culturais, que funcionam como aportes do pensamento e das atividades do homem.
Saiba Mais
No Brasil e pelo Brasil estejamos atentos e sejamos conhecedores de seu patrimônio cultural. Patrimônios que já foram tombados e, até mesmo, como participar de editais de solicitação de registro e tombamento de outros elementos que podem corresponder a patrimônio cultural. A tomada de consciência desse patrimônio e a participação em programas, projetos e publicações relacionados ao mesmo, nos enriquece culturalmente e nos permite difundir uma cultura que é de todo brasileiro.
Para saber mais sobre o tema acesse a página oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico por meio do link:
Home - IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalChamamos sua atenção para um bem cultural que é objeto de nossos estudos nesta disciplina e se destaca no INRC: Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL).
http://portal.iphan.gov.br/indl¹Fonte: http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
²Acesso ao portal: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/681/